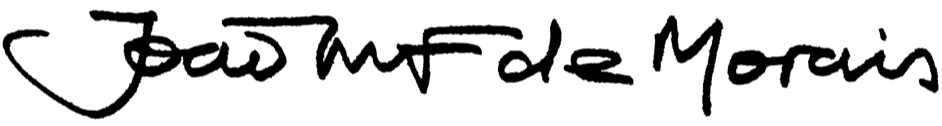A Casa dos Espelhos
(1) Entre Banbury e Linton Road – Um Vértice de Luz – Preto no Branco
Nada fazia prever o que vejo à chegada: um horizonte gótico de domos, cúpulas, pináculos. Um crepúsculo de madrepérola, uma réstia de luz suspensa em sonolentas arcadas medievas. O Tamisa ao lado, em requebros de amante. Oxford, cidade-mausoléu que promete a quem a vê pela primeira vez um pedaço de história por inventar.
1. Entre Banbury e Linton Road (Oxford)
Diga-me porque estuda arqueologia e não outra ciência? Pergunta Ray Inskeep no nosso primeiro encontro. Após um momento de surpresa pela inesperada questão, falo-lhe do meu fascínio de muitas vezes pressentir a presença de antigas gentes no abandono das paisagens com que deparo; de observar antigos daguerreótipos e de ali não descobrir sinais de vida; de consultar antigas gravuras da cidade de Lisboa –aquela ‘cidade global’ de 1500– e ver representados muitos africanos. Como melhor encontrar no tempo essas efémeras e ancestrais existências? Quem são eles que ali viveram, porquê ali e não noutro lado? Se o oculto nos falasse, se o tempo não sepultasse os objetos do passado, se as placas de prata e cobre desses daguerreótipos não necessitassem de uma longa exposição à luz, apagando a presença humana e tornando os espaços desertos; se essas figuras africanas da antiga capital do império pudessem descrever as suas origens, cotidiano e pensamentos, o passado seria menos fantasmagórico. É isso que eu procuro: saber um pouco mais daquilo que perdura no tempo, ressuscitar o que ele obliterou, resgatar da morte os objetos que jazem em bolorentas vitrinas de museu. E em última instância, muito me seduz a arqueologia ser agora uma ciência essencialmente interdisciplinar que integra, entre outros, elementos de história e antropologia, paleogenética, geomorfologia, paleoclimatologia, fenologia, linguística e física nuclear (para efeitos de datação).
“A Arqueologia é a única disciplina capaz de fornecer o denominador comum unindo toda a humanidade, sem considerações de raça, credo ou cor”, escreveu Ray em 1970 (2), num inspirador manifesto em que antecipava as grandes mudanças políticas em curso na África austral. Complementando a história escrita e mais recente, a arqueologia é instrumento único no sentido de remontar a um passado que somente pode ser conhecido através dela; um passado tanto mais notável quanto a ciência demonstrar toda a humanidade ter emergido de África, antes de se espalhar pelo planeta. Contudo muito pouco se sabe desse passado, particularmente em Moçambique, onde a arqueologia foi penalizada pela dependência e mentalidade coloniais, bem como pelo relativo atraso da disciplina na metrópole. E, no entanto, mais aceitável me parece a ignorância do que a fraude: nos países vizinhos, até há pouco tempo, o Grande Zimbabwe foi entendido como exótica criação da lendária Rainha de Sabá; e as vagas milenares de migração das comunidades de língua Bantu vista como fenómeno coincidente com a chegada dos Boer ao Transval há pouco mais de 150 anos. A ideologia ao serviço da propaganda política. O que é interessante neste fenómeno não é tão-só o que inventa, é a visão romântica que reforça o totalitarismo e o desprezo pelos valores da razão. Porque no geral a ciência recusa ser ‘filosofia’ ou ideologia. Porque as ciências históricas desmistificam essencialmente o mito da superioridade racial bem como todos os outros fanatismos que deram origem ao século de maior tragédia da civilização ocidental.
Ainda assim, pergunta Ray, se tivesse de escolher um momento a partir do qual Moçambique entra em pleno domínio do ‘histórico’, que data escolheria, e porquê? A segunda das suas perguntas, seis como os dias da criação. Uma proposta de síntese do essencial, a importância das relacionação mais do que o relacionável, um mais apurado idioma. E explica: no princípio do saber está a dúvida, todas as legítimas perguntas devem ter explicação, fazendo uso de metodologias reproduzíveis e com respostas compatíveis entre si. Naquela hipotética relação, o que é ‘histórico’ e o que é ‘pré’ e ‘pós’-histórico? E ele prossegue, indulgente da minha perplexidade: Terá muitas vezes que seguir aquilo que mais apelo tem para si, porque o que alimenta a pesquisa é o desafio do incerto, esse precioso bem que estimula a intuição, a imaginação e os interesses pessoais. E no breve silêncio que se segue, dou comigo a refletir que uma metáfora desse incerto é auscultar o ventre da terra, camada-por-camada, e nele abrir as sucessivas cortinas da vasta plateia do tempo que nos fez. Cada cenário tem o seu encanto, mas esconde ainda outro, e cada vez mais longínquo panorama; mais profundo e misterioso. Enigmas do passado que nos falam numa linguagem esquecida pelo tempo. As perguntas que Ray me vai colocando são como a pedra Roseta dessa antiga fala, as palavras-chave dessa tradução que procuro desvendar. Este o seu papel de mentor no semanal encontro que estimula o reaprender do pensar, a redescoberta do milenar diálogo socrático. Ray continua enumerando as questões a responder, até à última daquele dia: Após consulta da literatura relevante sobre o tema ‘as primeiras comunidades agrícolas em Moçambique’, e depois de refletir sobre os problemas e os desafios a enfrentar, conviria fazer um levantamento da pluralidade das respostas que possam eventualmente ocorrer, e porquê. Para isso terei seis dias até ao nosso próximo encontro, antes da entrega do meu ‘ensaio semanal’ para leitura crítica e subsequente discussão, o primeiro de muitos ulteriores sétimos dias.
I- Banbury Road 60, Oxford (em 1864): sede do Wolfson College (1966-1974) e do Donald Baden-Powell Quaternary Research Center (1975-2003). Gabinete do Prof Ray Inskeep à esquerda da porta principal
Outono de 1979: Oxford é cidade de abundantes águas. Assim anoto no diário para Setembro: 20 dias de chuvisco, 10 dias de chuva, 30 dias de névoas. A luminosidade é agora mais pálida, os dias mais curtos, os edifícios revestidos de um calcário pardo e melancólico. Uma luz láctea filtrada que em tudo persiste e se alastra entorpecida ao longo das margens do Tamisa e do Cherwell, até se diluir numa ínsula de batinas negras, antiguidades e silêncios: a ‘cidade-erudita’, arcaica e renascentista. Em contraste, numa primeira visita primaveril, foi a ‘cidade cartão-postal’ que aqui encontrei, banhada no ‘gótico colegial’ de dourados e azuis, emoldurando viçosos quadrângulos ajardinados, e refletindo policromáticos fulgores de enormes janelas de vitrais. Foi nessa ocasião que pela primeira vez avistei com espanto –suspensas no topo de seculares cimalhas antes da neblina as esconder– grotescas gárgulas esculpidas que presenciavam com semblantes de horror o contínuo desfile de turistas a seus pés.
Oxford é a única cidade de interior que ocasionalmente me faz esquecer a magia do mar. E nesse breve desprendimento olho as águas oleosas e escuras dos dois rios que ali se encontram num pacto de amor, o maior arrastando o conhecer milenar que fez a nação, o menor um saber que desde há mil anos fez essa história. Uma história feita de saberes antigos que a abadia agostiniana de Oseney lembra desde 1120, saberes acrescentados por aqueles que foram expulsos da Universidade de Paris (em 1167), e exigiram a fundação de residências e os primeiros colégios (Balliol e Merton, em 1249 e 1264). Pouco depois de setecentos anos, o Wolfson College é o último dos colégios instituídos, onde me inscrevi tendo em conta o seu cariz internacional e interdisciplinar, e por facilitar alojamento familiar a estudantes de pós-graduação. Para ali chegar, prosseguindo para norte ao longo da Banbury Road em direção a Summertown, a estrada intersecta depois de cerca de um quilómetro a Linton Road, estrada que depois de atravessar antigas moradias vitorianas desemboca numa das margens do rio Cherwell junto do Wolfson College. Num dessas casas tenho provisório alojamento, antes de poder transitar para o edifício principal do colégio: um minúsculo quarto gélido de janelas salientes e pequenas vidraças de vidro simples, com um rústico aquecedor-tipo-torradeira embutido numa antiga lareira, com um temporizador acionado por uma caixinha de xelins. Porque raramente a economia me permite usar o aquecimento, e para evitar o desconforto, finalizo o meu dia de trabalho sentado na cama coberto por múltiplas mantas, acordando invariavelmente para dar conta dos pequenos ribeiros que a condensação da noite depositou junto das translúcidas vidraças.
A entrada do colégio fica num beco sem saída a 450 metros da esquina da Banbury Road, a cerca de quilómetro e meio do meu local de trabalho. Fundado em 1966, antes de inaugurar em 1974 o mais moderno dos complexos universitários, o Wolfson teve inicialmente assento na número 60 da Banbury Road, edifício da instituição onde trabalho. Por recomendação de Ray Inskeep –e porque é obrigatória a inscrição num dos 43 colégios– ali fui aceite. Wolfson reflete bem a personagem do seu fundador e primeiro presidente, Isaiah Berlin (1909-1997), para quem a história das ideias releva de uma prática social longe da escolástica ‘torre de marfim’ que Oxford simboliza depois de 800 anos de história. Isaiah Berlin, um exilado da revolução russa que iniciou a sua carreira científica com uma biografia sobre Marx, é um polimático do pensamento universal para quem ‘compreender é perceber padrões’, nomeadamente aquelas que depois da reação ao ‘século das luzes’ levaram aos valores absolutos do totalitarismo, com o seu cortejo de vítimas. Um dos seus mais famosos ensaios analisa uma clássica metáfora do poeta grego Archilochus (c.680-645 BCE), que compara a personalidade da raposa (que conhece muitas coisas) à do ouriço (que reconhece uma única, mas grande, coisa).
II- Wolfson College, entrada principal e vista do rio Cherwell
2. Um Vértice de Luz
(...) Muitas vezes nos encontramos sob a cúpula piramidal da sala de refeições do Wolfson: o padre Ezequiel, estudante de antropologia no Campion Hall, João, o sociólogo doutorando no St Anthony’s College, e eu, ali residente: ‘Na cerimónia de inauguração deste lugar, no Outono de 1974, enquanto o cello de Rostropovich tocava Bach, assistíamos nós ao abandono de um dos últimos impérios coloniais. Por um lado a presença da eterna linguagem universal, por outro o estilhaçar da fantasia do passado daquele que foi o primeiro domínio austral do qual nós fizemos parte. Por isso a obra espiritual parece-me ser mais duradoura que a obra histórica. E apropriadamente Isaiah Berlin recordar que “A história não tem um libreto”. Se o tivesse seria uma tragédia em dois actos: o da fantasia ‘clássica’ dos antigos mitos e as virtudes universais que criaram o género humano e os seus territórios, seguida pelo da destruição ‘romântica’ dessa quimera, em que realidade se transforma num mundo fragmentado em que cada um inventa a fantasia em que quer acreditar. Este último acto descreve bem a natureza dos revolucionários românticos, desde os capitães de Abril às elites militares ‘libertadoras’ da nova pátria, para quem os motivos foram claramente mais importantes do que as consequências. E esta reflete-se na tragédia penalizando muitos inocentes, seja em ‘campos de reeducação’ ou como ‘retornados’ empobrecidos na ex-metrópole’ (...)
III- A convergência piramidal da ‘Dining-Hall’ do Wolfson College
E continuo: ‘particularmente os capitães de Abril, não sabendo separar o sonho da realidade (um síndroma nacional que Jorge Dias escreve no seu clássico retrato da cultura portuguesa), recusaram enfrentar a necessidade de perscrutar ‘o outro lado do espelho’ ou ponderar sobre os riscos d‘A Toca do Coelho’, precisamente aquilo que Alice fez há cem anos com a perspicácia com que Lewis Carroll a inventou nesta cidade onde nos encontramos. Falando de ilusões, será oportuno retomar a clássica ficção sobre a raposa e o ouriço, a dicotomia de como nós apreendemos aquilo que nos rodeia: a raposa conhece ‘muitas coisas’, mas o ouriço apenas ‘uma grande coisa’. A esta fábula sugiro juntar um terceiro protagonista: o cuco. A raposa representa por excelência o mundo da intuição, imaginação e criatividade. O ouriço o domínio da ciência e da razão, do método e da ação individual. O cuco, um misto dos dois, pela singularidade egoísta da procriação em ninho alheio, pelos folclores que o associam com a metamorfose da vida, das estações do ano, das colheitas, do relógio, e como comprovado bioindicador de diversidade genética; pela coexistência do saber de uma singular coisa, bem como de muitas outras coisas. E figurativamente, lembrando-nos sermos nós por um lado, como o cuco, parte da grande ‘coisa’ que é o infinito ‘território’ cósmico a que pertencemos; e por outro, fragmentos contraditórios de uma ‘mapoteca’ de muitas coisas, incluindo a inevitável temporalidade da vida.’(...)
Depois de um curto silêncio, João acrescenta: ‘Parece-me claro do que dizes que a humanidade dos nossos dias não enxerga mais do que esse pobre ‘mundo-cuco’ de que falas, esse mapa estático que procuramos encher de ‘coisas’, na ilusão de que assim podermos viver mais intensamente a vida. Mas afinal o sinal no caminho onde julgávamos ter lido ‘liberdade’ não levou senão que ao despotismo’ (...) ‘Mas (interrompe Ezequiel) devo lembrar que muito antes disso, e porque sinto que em breve falaremos de conhecimento científico que germina com o renascimento e prospera com o iluminismo. São essas ‘luzes’ que primordialmente influenciam ou determinam os nossos actos, como consciência de nós próprios. São elas que inspiram perguntas capitais do tipo ‘E eu, quem sou eu’? Qual o propósito da vida? O que é a natureza do Bem? Notem bem que até há pouco tempo as sociedades viviam em estreita harmonia com a natureza, e o divino pertencia ao mundo dos espíritos. Os mortos, o passado coletivo, faziam parte de nós. Foi com a ‘Idade Axial’ durante o primeiro milénio antes de Cristo que permitiu uma certa ‘transcendência’ espiritual, curiosamente síncrona do Oriente ao Ocidente; e pouco depois dela o ‘mundo clássico’ Grego que consolidou essa emergente individualidade, as perguntas que criaram a filosofia e desenvolveram a literatura europeia, culminando na descoberta de uma divindade com múltiplos nomes. O último estertor foi o seu herdeiro, o iluminismo, que na sua arrogância criou um novo deus, a Ciência. E desde então andamos perdidos no mundo, ignorantes do passado, entre o crepúsculo dos deuses e as ruínas da sua criação, o planeta que destruímos. Como acreditar num futuro sem a existência do sagrado? Onde recomeçar? Será tudo parte do eterno ciclo que o Eclesiastes lembra nas palavras ‘O que foi voltará a ser, o que aconteceu, ocorrerá de novo, o que foi feito deve ser feito outra vez; não existe nada de novo debaixo do sol’? Ou será ainda, como o filósofo David Hume (1711-1776) lembrava, que ‘conhecemos a razão não através do intelecto, mas da fé’? (...)
‘Mas como “não há fome sem fartura”, será oportuno lembrar os últimos 250 anos’ (sugiro eu), do universalismo ao individualismo, do ‘Século das Luzes’ que culminou na revolução francesa e que no seu rescaldo extravasou em extremos, que gerou o Romantismo Europeu. Foi ainda entre a Revolução Francesa de 1789 e a queda do muro de Berlim em 1989 que as ideologias que hoje conhecemos foram inventadas –o nacionalismo, comunismo, fascismo, neoliberalismo– que demonstram serem utópicas atitudes ‘racionais’ e universalmente compatíveis. E onde está África nesse processo? Não são o ‘pan-africanismo’ e o recente comunismo paradoxos desse internacionalismo que reivindica? Que dizendo apostar no anticolonial, secular e revolucionário deu em chauvinismo político e sectarismo cultural? Aquilo que dizia acreditar na força da criação, da pessoa, dos propósitos, uma doutrina idealista e ‘dinâmica, da vitória do local sobre o universal, da liberdade, gera no seu extremo aquilo que conhecemos: fins que legitimam todos os meios e ignoram consequências, que inventam novas ‘verdades’, que rejeitam princípios da razão universal (que a ‘idade das luzes havia ‘acendido’) ... e que geram ao fim e ao cabo as diversas formas de fascismo e ditadura que conhecemos, com o seu cortejo de vítimas imoladas em nome da ‘pátria’ da ‘raça’ ou da ‘cultura’: o desprezo da pessoa em nome do novo ‘super-homem’, a persistência da tribo sobre a nação, o poder arbitrário, ditatorial e cruel, que ignora o respeito à individualidade, o direito humano, a moralidade... e muito isto também como resultado de um certo complexo de inferioridade, de orgulho ferido, em relação a sociedades, economias e ‘impérios’ mais avançados (...)
João interrompe ironicamente: ‘Por isso Schopenhauer lembrava que “o novo raramente é o bom, pois o bom é novo apenas por pouco tempo”. Mas muito cientista sonha ainda com a utopia do eterno, em vez de um sistema único e integrado. Marx ambicionava tornar universal a sua teoria histórica, como perfeita analogia do modelo de evolução Darwinista aplicada ao desenvolvimento social, uma espécie de eterna sociologia do desenvolvimento. Quem sabe se inspirado também pelo otimismo iluminado de Condorcet, que declarava em 1782 ser um dia possível explicar a natureza humana da mesma forma que a zoologia explica a natureza de abelhas e castores. Mas lembro que o marxismo não é ciência, mas uma teoria em grande medida contestada pela história, uma conjetura do ‘progresso’ social. Mesmo a matemática, a rainha das ciências, pode demonstrar a complexidade numérica do jogo de xadrez, mas é incapaz de conhecer com precisão o raciocínio do jogador na mutabilidade das suas opções. No rasto de Descartes, o italiano Giambattista Vico lembrava que embora o sistema cartesiano defendesse que o verdadeiro conhecimento é irrefutável e axiomático, como fruto da criação humana as suas proposições não podem contudo refletir a verdadeira realidade do mundo. O mundo real é opaco, errático e imprevisível (...)
‘E nessa veia é cada vez mais evidente que somente podemos sobreviver como espécie’ (acrescento eu) ‘se o 'novo' universal for capaz de assegurar o respeito por um planeta actualmente em estado de ruína. Bem como assim as sociedades regressarem à racionalidade do mundo clássico, fazendo por encontrar respostas objetivas e universais para cruciais questões como por exemplo aquelas referentes à compreensão do mundo em que vivemos e o que devemos fazer para corrigir o que está errado... Julgo também ser fundamental que como cientistas avancemos unidos na tradição milenar que sustenta o princípio de que o mundo é um sistema único e orgânico, promovendo todas as esferas do conhecimento humano; e por isso recusar dogmas que reduzem a natureza –incluindo a nossa própria consciência– a um mero materialismo mecânico e tecnológico. Deveremos ainda concordar que o tipo de questões e suas respostas determinam, em última análise, diversos, mas sinérgicos campos de estudo; que a sabedoria requer a pluralidade de conhecimentos empíricos e formais, a observação e o cálculo, os métodos indutivos e dedutivos. E por fim acreditar que cada pergunta genuína tem uma resposta, que método e propósito são racionais e essencialmente idênticos em todos os campos, e os seus resultados universalmente verdadeiros e aplicáveis’ (...)
‘Acabas de pronunciar um belíssimo manifesto científico’, diz Ezequiel... ‘mas o que acontece se descermos à realidade do cidadão do país que nos viu nascer? O que constitui o sentido de identidade do moçambicano num país onde a unidade da nação está por construir, a miséria material é agravada, a liberdade abolida, os recursos naturais desbastados por tuta-e-meia num pacto com o grande capital, na completa deflorestação e destruição de belezas naturais únicas? O grau de liberdade que o moçambicano exigia ser idêntica à do colono foi argumento para a autodeterminação, uma breve fantasia até se instaurar a nova escravatura política e a corrupção partidária. O progresso de muito poucos (nomeadamente o acesso à rápida riqueza dos governantes) é a alienação de muitos outros, cada vez mais longe do progresso material das nações industrializadas. Que valor tem o ganhar da ‘liberdade’, perdendo a ‘igualdade’? O que vale a primeira sem a segunda? Quem vive na miséria não pode ser verdadeiramente livre. Valores universais de facto existem, e não se podem escolher algumas verdades e ignorar outras, como quando a liberdade de uns se transforma nas algemas de outros. Não existe autodeterminação se não existir liberdade (...)
3. Preto no Branco
Um envelope timbrado de boa qualidade, um inesperado sinal de regresso ao mundo real, uma realidade difusa depois de há poucos meses ter ali chegado. Uma mancha branca, como que um ovo abandonado no meu ‘columbário’, que na gíria Oxfordiana designa o armário caixa-postal onde a correspondência estudantil é distribuída. O selo tem um carimbo de Setembro de 1979 e o timbre dourado refere a ‘Embaixada da República Popular de Moçambique’. O meu nome e endereço estão corretos: Wolfson College, Linton Road, Oxford OX2 6UD. E por algum motivo tudo isto desperta alguma inquietação: quatro anos depois da independência, intensificam-se notícias de prisões arbitrárias, execuções em campos de concentração, eliminação de qualquer indício de oposição à nova ditadura. E para a acentuar o súbito contraste de emoções, a manhã é de um outono cristalino, raro e seguramente breve nestas paragens: uma luz quente que agora se projeta sobre paredes de madeira exótica da hipermoderna arquitetura que marca a grandeza deste novo ‘mosteiro’ do saber; e, no entanto, sem motivo aparente, sinto um arrepio de premonição de um inverno prematuro.
A carta fala de um encontro que acontecerá dentro de dias num dos hotéis de Londres. Dou conta que os termos não são de convite, mas de convocação: ‘Sua Excelência o Comissário Político encontra-se de visita ao Reino Unido, pelo que requer o encontro com todos os estudantes moçambicanos aqui residentes’. Somos mandatados, como noutros eventos onde as ‘massas operárias’ são transportadas de seus locais de trabalho para participação ‘voluntária’ em reuniões políticas. Presumo que para nos lembrar obrigações e alertar sobre dois reconciliáveis mundos, o ‘de lá’ e o ‘daqui’. Suspeito ainda para nos relembrar privilégios e suas responsabilidades. Porque todos os merecidos heróis são finalmente recompensados, como foi o Comissário, que na sua jovem e sofrida fase poética escrevia como poderia ‘nas suas dores [...] evitar insultos [...] ao sensível coração da Mãe África’. África, sempre Mãe, nas suas dores de parto: a tragédia da longa gestação da primeira humanidade aos escravos dela arrancados a ferro e sangue; antes de cair no jugo de governantes corruptos e ditadores, antes das luzes. Que de alguma forma me recorda o eterno retorno do Zaratustra de Nietzsche, quando afirma que ‘demasiado mentem os poetas’, cruel afirmação que quando jovem me paralisou a escrita. Um pensamento inspirado na pessoa do comissário, e um quesito sobre o propósito do encontro; uma preocupada reflexão sobre os termos da convocatória.
Recordo muitas vezes ter visto o camarada comissário político chegar ao Centro de Estudos Africanos num lustroso Range Rover 'Balmoral Green', com motorista e guarda-costas, para ali receber ensino privado (que ele, entre poucos outros, proibiu logo após a independência). Suspeito, ainda, sem necessitar de apresentar ensaios semanais, ou ambicionar obter um diploma universitário. Mas aqui devo pôr fim a toda a comparação: o camarada não precisa de diploma ou de avançada ciência para comissariar um país. O seu papel junto de nós, inspirado num encontro de Stalin com intelectuais soviéticos na casa de Maxim Gorki a 26 de Outubro de 1932, é o de nos instigar a ser também ‘engenheiros de almas’, quando a isso formos chamados. Talvez por isso receie a nossa presença num país tolerante e liberal como este, mesmo tendo nós merecido a necessária confiança política para aqui chegarmos?
O comboio da tarde leva-me a London Paddington, e dali prossigo de autocarro até ao ‘The Langham’, junto de Regent Park. Um regente-cinco-estrelas, apropriado local para um encontro com o camarada comissário. Um de nós, mas bastante mais que todos nós: a inevitabilidade que um dia o levará a presidente da república, imagino. O átrio do hotel é imponente e a sala de conferências imperial. O espaço e a ocasião parecem esmagadores, mas ocorre-me que o generalíssimo talvez compartilhe o sentimento –como Santo Agostinho nos recorda ser obrigação nas suas ‘Confissões’– de devolver um pouco daquilo que recebe? Um pensamento ecuménico e tranquilizante.
Ali encontro cerca de vinte colegas que frequentam diversas universidades britânicas, com quem troco impressões sobre o motivo deste encontro. Com a entrada do distinto visitante, somos convidados a sentarmo-nos numa comprida mesa com uma imperial cadeira no topo onde ele se instala. À medida que o sermão se vai desenrolando, entre conselhos, lembranças e dissimuladas admoestações, fica claro que nos devemos considerar como eleitos, a quem muito foi oferecido, e de quem muito se espera no retribuir. ‘Será que, como membros do partido e privilegiados membros da ‘República Popular’, estamos cientes dos nossos deveres e obrigações?’ Os semblantes à volta da mesa são pesados e pensativos. Por alguma razão, as palavras de Paulo aos Coríntios vêm-me à mente: “O que tenho eu que não tenha recebido”? Um pequeno exemplo de sincronismo entre religião e ideologia partidária? Dou-me, entretanto, também conta que este monólogo esquece de todo as mordomias que ele próprio e a sua nomenklatura usufrui, uma vida luxuosa num país arruinado e dos mais pobres do planeta.
A náusea aliena-me daquele lugar, gerando outros devaneios: quantos idênticos sermões e humilhações teria eu ouvido na sociedade paternalista que me criou? Recusando, contudo, a momentânea adversidade e os ecos de falsas palavras, outras exultantes recordações prevalecem, que me fazem agora rever as paisagens que me criaram, de mangais e marés, do aroma da terra e da maresia, da ternura de abraços e olhares, de amizades e promessas, de infindáveis sonhos e o orgulho de aqui ter chegado... E de volta a este lugar, pudesse eu ter a coragem de dizer em voz alta, como o Caliban de Shakespeare (...)” Não tenhais medo; a Ilha é cheia de ruídos, sons e doces brisas que dão prazer e não fazem mal” ... Esse mesmo Caliban que deu título a dois fascículos de letras na Lourenço Marques de 1971, plena da poesia romântica de quem lutava pela autonomia política sem antever a tempestade que lhe sucederia. Que dirá a história dessa elite intelectual perdida no tempo? Talvez uma nota de rodapé numa anónima coletânea literária?
Poucos meses antes da independência em 1975 fui convidado como docente de história de Moçambique para um curso intensivo a oficiais de alta patente da Frelimo. Não me recordo de ver, entre os generais ali presentes, o nosso distinto anfitrião. E se assim fosse ele certamente me reconheceria. O curso realizou-se nas terras altas do Gurué na província de Nampula, numa antiga missão católica que pouco tempo depois seria nacionalizada. Um pequeno grupo foi para ali transportado de Maputo num helicóptero militar português, voando à chegada sobre a extensa e verdejante paisagem de plantações de chá nas encostas do montes Namúli, visível no horizonte a uma altitude de 2419 metros. E ainda mais longe os famosos inselbergues, monolíticas montanhas despontando aqui e ali como seios graníticos. A produção de chá praticamente desapareceu pouco depois da nacionalização da terra em 1975, quando os proprietários abandonaram as suas empresas. Mas de volta à realidade...
A julgar pelos crescentes silêncios entrecortados, a palestra aos 'privilegiados intelectuais ' vai esmorecendo, talvez melhor erudição não o permita; ou os efeitos das palavras sejam agora mais reais, o sentido de culpa, a ferida que ele quer deixar exposta. Depois delas, no momentâneo mutismo que se segue, ocorrem-me dois pensamentos: como filhos do novo país, ali não se adquirem direitos existenciais, apenas uma relativa possibilidade. Será que eu, e a maioria de nós ao redor da mesa (apenas um sendo negro), tendo recebido o benefício de uma educação superior, entendemos ser mais do que ‘africanos de segunda', filhos de uma evidente herança europeia ou asiática; nós que nos tornámos moçambicanos como que num acto-de-fé? As sombras vão alastrando, o ar opressivo de premente tensão. Uma voz autoritária convida perguntas. Muito poucos o ousam, e aqueles que o fazem falham-no miseravelmente, na remanescente sensação de haver algo dissimulado naquele falar desconexo. E estar ali, estar no lugar errado. Terei, contudo, a ousadia... será que ele entenderá a minha pergunta?
Ainda assim, atrevo-me a levantar a mão a indagar se o generalíssimo comissário terá informação do destino do nosso camarada Luís de Brito que desapareceu há um ano. Luís é respeitado colega e um honesto trabalhador, membro da nossa célula do partido da Faculdade de Letras? Rumores indicam que ele terá sido enviado para um ‘Campo de Reeducação’ na província do Niassa?... Vejo nos seus olhos um momentâneo e intenso clarão que me silencia. Paralisado, ouço uma gélida e cruel pergunta de volta: 'Você pergunta porque ele é branco?'
Sem resposta, no penoso silêncio daquela epifania, nenhuma outra palavra é necessária: uma réplica preto-no-branco, lacónica mas evidente, com princípio-meio-e-fim; na voragem do momento revejo a figura grotesca do cuco despontando do relógio; e à minha volta rostos perplexos que me fitam surpresos pela má ideia de ‘pedir horas’. Os olhos que me olham interrogam-me se eu não saberei que o tempo agora é outro, autocrático, incontestável e caprichoso? Se não perceberei na minha ingenuidade que no país a verdade é agora virtual, que a linguagem que sonhámos um dia ser nossa, fala agora arbitrariedade e poder?
A noite cai de chofre, e a sala exala uma atmosfera peganhenta e vil. Com alívio vejo o generalíssimo levantar-se sem um olhar de despedida em redor da mesa. De porte arrogante e firme, acompanho a sombra que rapidamente desaparece ao fundo do corredor, e com ela a toada de um cuco anunciando o final da fantasia. E naquele instante de asfixia dou-me conta da irrevogável corrente arrastando-me para o abismo, da magia de milhentos crepúsculos subitamente engolidos pelo ocaso, do presságio da renúncia política no regresso a Moçambique, e o espectro da diáspora que se anuncia.
No silêncio da noite, Oxford é como uma nau encalhada no Cherwell. As luzes são pirilampos suspensos no vazio, e as ruelas becos sem saída que desaguam onde gárgulas de sorriso pérfido e frio me olham do alto. Como se não houvesse mais caminho de regresso a casa, a cidade perde o seu nome, a caminhada o sentido. De um pub por onde passo chegam sons abafados de comoção. Na igreja de ‘Saint Andrews’ ressoam as matinas. Pudesse agora encontrar o maravilhoso país de Alice, na quimera de ali caber, para desvendar a eterna luz que sobrevive o anoitecer...
(1) Em memória de Ray Inskeep (1926-2003) pioneiro da arqueologia da África austral e inesquecível mestre, e dos saudosos companheiros Ezequiel Pedro Gwembe (1941-2016) e João Bettencourt da Câmara (1948-2015)
(2) ‘Archaeology and Society in South Africa’, South African Journal of Science, 66: 310
Ilustrações: I- Banbury Road 60, Oxford, Wikimedia Commons; II- Shaun Ferguson / Wolfson College, Wikimedia Commons (general view Cherwell) e Wolfson College, Entrada principal, Wikimedia Commons, 2019; III- Wolfson College Dining Hall, Wikimedia Commons / Mtcv