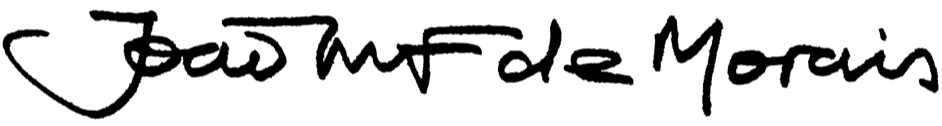A Raiz da Serradura
A Fábrica – A Serração – O reencontro
A Fábrica (Beira 2007): Tudo muda com o tempo, o seu eterno fluxo nada deixa incólume, idêntico, intacto. A memória é como que uma coreografia desse tempo refletido num espelho quebrado: cada pedaço emite luz própria, mas numa totalidade ofuscante, superior à soma das suas partes. Por isso tantas vezes recusamos recordar. E a realidade? Porque será que o que agora vejo me encandeia? Como reagrupar esta visão, as partes de um todo que a memória me diz estar quebrado para sempre? E um lugar? O que serão estas paredes senão as novas partes de uma fragmentada e opaca realidade? Dou-me subitamente conta de que sem a presença do passado a memória não existe, e por isso novos objetos e lugares parecem-nos vazios e ausentes. Por outro lado, somente criamos a realidade –aceitando os objetos que vemos– quando somos capazes de a suportar. Por esse motivo o objeto defronte de mim rejeita ser realidade e resiste a ser memória. Malgrado tudo isso decidi fazer esta viagem para relembrar, e poder finalmente esquecer. Porque somente depois de sofrer a desilusão e enfrentar o medo podemos descobrir a esperança. Porque só quem viveu o ódio pode conhecer o amor.
1. Mobel
Era uma vez um percurso mil vezes percorrido. Agora, vindo de muito longe, trinta anos depois, o que vejo não se assemelha de todo com o reduto de outrora. E uma vez mais me ocorre ser o destino mera imprevisão, o inesperado acaso que nunca nos prepara para a fatalidade quando finalmente diante dela: ‘ela’ é hoje o espectro do que um dia foi como que uma nave branca, agora destroço de navio encalhado em lama, um casco sórdido e bolorento onde mal se adivinha a antiga inscrição: ‘Mobel, Fábrica de Colchões de Molas e Mobiliário’. Mas agora o anonimato é evidente, ou de outra forma poderíamos talvez ler, ‘ITM, Indústria de Transformação de Madeira’. Foi isso que me disseram, mas eu descrente procuro todos os sinais que possam confirmar essa suposição: as dimensões parecem ser as mesmas, o portão de ferro –agora exorbitante, ferrugento e hostil– de algum modo familiar, o endereço correspondendo aquele que substituiu o antigo: Avenida dos Mártires da Machava, 2462.
Eu não agendei visita. A quem pedir? Aqui regresso para me encontrar uma última vez com meu pai, como sempre o encontrei no passado. A fábrica foi o seu projeto de vida, a sua obra, e ele recentemente falecido em Lisboa. Malgrado a adversidade que em idade avançada o obrigou a trabalhos esforçados no seu exílio, depois de perder todos os seus bens, nunca dele ouvi palavra de amargura ou rancor. Sinto, no entanto, que a sua presença neste momento me acompanha, duplamente testemunha e anfitrião. Estou certo de aqui o encontrar em espírito, sorridente, confiante e acolhedor como sempre, no seu gabinete ao fundo do corredor do primeiro piso, sentado numa secretária com tampo feito de uma única, ampla prancha de panga-panga, armários, duas cadeiras e um sofá Chesterfield.
Recordo-me da última vez que ali nos encontrámos, discutindo os impactos da turbulência política da ‘Revolução de Abril’ e a iminência de uma nova pátria sob o domínio de um partido único de feição comunista. O que fazer, para onde ir se tudo lhe for roubado? Mas que lugar, que futuro senão aquele que ele havia aqui construído, assegurava-lhe eu. As mudanças seriam para melhor, a sua criação devidamente reconhecida, e a sua honestidade de empresário e empregador, inquestionáveis garantes de um futuro. Moçambique precisava de pessoas como ele. Que como diz o adágio persa, ‘também isto irá passar’: no fluxo da mudança, como ele tantas vezes nos lembrava, ‘não há mal que nunca acabe’.
O que é um lugar, um dizer, uma imagem, senão o reflexo da sua negação? Não havendo mal que nunca acaba, também ‘não há bem que sempre dure’: meu velho amigo Blond, trabalhador da fábrica com bons contactos na célula do partido, avisou meu pai de uma iminente prisão sob falsa acusação de ‘sabotagem económica’. Naqueles dias uma forma de nacionalização arbitrária da propriedade privada de bens económicos, que obrigou os meus pais a uma fuga precipitada por estrada através do Malawi, levando com eles unicamente duas malas, num exílio sem regresso. Trauma que minha mãe arrastou durante toda a sua vida.(1)
A nossa vida familiar na Beira, a segunda cidade moçambicana, era em grande medida influenciada pela ‘fábrica do pai’. Na sua humildade, o pai não deixava de transparecer o merecido orgulho da sua obra, a motivação, moralidade e inteligência com que a construía. Acima de tudo o que mais o incentivava para além do lucro, era inovação tecnológica e bem-estar das centenas de trabalhadores fabris. Progresso económico e social, lado-a-lado. Como respeitado empresário ele era um ativo promotor de igualdade no trabalho, empregando deficientes como era o operador da central telefónica, que –malgrado a sua cegueira – possuía uma admirável coreografia táctil, com bandas elásticas de diversas espessuras aplicadas no teclado das linhas internas e no disco de marcação. Ademais, todos os trabalhadores expostos a trabalhos em ambiente tóxico dispunham de equipamento e acesso a dieta para minimizar consequências nocivas.
Durante férias escolares era usual visitar a fábrica, ali reencontrando muitos dos trabalhadores que conhecia desde criança. E era sempre com o mesmo fascínio que presenciava a elaborada metamorfose da matéria-prima em produto acabado, a criatividade artesanal nas dezenas de bancadas de trabalho, a meticulosidade dos inventários de armazém, a imaculada frescura da modesta enfermaria. A entrada da fábrica tinha duplos portões de ferro forjado na fachada voltada à rua principal que corria do centro da cidade para oeste, estendendo-se até ao Alto da Manga e –muito para além dela– em direção à fronteira rodesiana. Depois do abraço do velho amigo Blond, porteiro, vidente e enciclopédico conhecedor da tecedura da fábrica e das suas gentes, subia ao primeiro piso para saudar o meu pai, antes de ele me levar consigo para uma ‘ronda’ à fábrica. O pessoal administrativo e o operador da central telefónica estavam localizados no rés-do-chão; e a chefia e apoio administrativo, contabilidade, gabinete de desenho no piso superior, ligados por uma escada interior. Ambos os pisos tinham amplas janelas voltadas para a vasta galeria da divisão de mobiliário e carpintaria.
Era hipnotizante observar a precisão e o cuidado artístico dedicado ao trabalho da madeira, a preparação das diversas partes que completariam o todo, a procura da melhor veia fibrosa para o entalhe: o amor à arte que Pigmalião teria ao esculpir o ideal a partir da platitude dos seus pedaços; ou ainda, como Gepeto, de forma a dar vida ao seu Pinóquio: a ventriloquia da criação, convergentes na mestria de uma panóplia de pequenos instrumentos, formões, trenas, limas, estiletes, níveis, esquadros, martelos, parafusos... despertando intensas fragrâncias de madeiras exóticas como a umbila, a panga-panga, cimbirre, chanfuta, chanate, pau-preto, pau-rosa e pau-ferro, sândalo... acompanhando os calados gestos nos últimos retoques com resinas, ceras e vernizes para colagem, calafetagem e embelezamento do produto final a ser entregue na loja ‘O Lar Moderno’, localizada no centro da cidade, de que meu pai e avô materno eram proprietários.
‘O Lar Moderno’ na Praça do Município (2007)
Deixando com algum esforço aquele fascinante e singular microcosmos para retomar a minha habitual peregrinação, era invariavelmente surpreendido pelo profundo contraste entre o mundo do artesanal e os ‘tempos modernos’ da produção em série que o âmago da fábrica encerrava: a divisão de colchoaria possuía outra trama, ritmo, enredamentos. De súbito, os sons, cheiros, toque e sabores eram intensificados, metálicos e frios. Aqui a máquina suplantava o homem, que unicamente a assistia, apressurado ator desempenhando um pulsar de ações precisas, mecânicas, rigorosas, como testemunha resignada da vitória da ciência sobre o reino da arte. E aqueles artesãos que pouco tempo antes tinham um porte e uma mímica serena e sóbria eram repentinamente substituídos por operários robustos e irrefreáveis, modelos do progresso que dispensavam os adornos do espírito e do belo em nome da perfeição maquinal. Em suma, o triunfo do império da razão sobre o império dos sentidos.
A divisão de colchoaria ocupava a maior fração dos 10 000 metros quadrados da fábrica. Com exclusão do arame de aço, da espuma de borracha e do elegante tecido adamascado de origem belga, tudo era preparado localmente: as bobines de arame usado para fabrico das molas eram temperadas em estufas de alta temperatura, e o arame moldado por máquinas que as rolavam em espiral de formato helicoidal. A estrutura do colchão era montada com arame de aço mais grosso, onde um esparguete de molas de diferentes bitolas e resistência eram justapostas formando a caixa, ou o esqueleto, do colchão. Completada essa fase intermédia, o mesmo era transferido para outro operário e outra mesa de trabalho onde o enchimento era feito em camadas que incluíam a espuma de borracha, o tampo feito de um espesso feltro de algodão, a entretela, e um mais fino acolchoado exterior num tecido adamascado, bordado num padrão geométrico. O colchão era finalmente fechado numa mesa giratória com uma máquina de costura, que rodava em torno do perímetro exterior do colchão, completando o topo e adicionando a faixa lateral com quatro pegas e diversas cápsulas plásticas perfuradas, espalhadas ao longo da faixa, permitindo assim que o colchão pudesse ‘respirar’.
O topo final da fábrica era como que habitado por um titânico ser cujo arquejar era constante, ressonante e colossal, vinte e quatro horas por dia, sete dias da semana: a máquina austríaca Wagner, num interminável ciclo de duas etapas, desfibrava retalhos de algodão obtidos na fábrica de confeções Textáfrica do Chimoio, e reconstituía essa fibra reciclada num enorme e espesso rolo de feltro, que depois de cortado, era usado como entretela do colchão. Para orgulho do meu pai, esta pérola industrial era única em Moçambique, fornecendo a matéria-prima para as outras duas fábricas de colchões (a Morfeu, copropriedade de seu irmão, e a Siesta, ambas em Lourenço Marques). A enorme máquina tinha, contudo, um calcanhar de Aquiles: com o calor e fermentação bacteriana o algodão facilmente sofre combustão espontânea. Desastre que duas vezes aconteceu, quando a enorme ‘Fénix’ teve de ser ressuscitada das cinzas. Calamidade que meu pai, como sempre, enfrentava com perseverança. Ainda outras motivações e brio o inspiravam: a Mobel exportava grande parte da sua produção de colchões para a Rodésia e Malawi, e oferecia uma garantia de 10 anos para qualquer defeito de fabrico.
Como aquela incansável desfibradora, meu pai lembrava frequentemente de ser nosso dever abraçar a existência com infinita responsabilidade, coragem e dedicação ao trabalho e com normas de conduta social honoráveis (por isso desprezava ostensivamente a política). Em homenagem à criação divina, de um Deus de que ele nunca falava explicitamente, contudo incorporando o que dizia naquilo que fazia. O seu fascínio pelo avanço tecnológico era um espelho do seu amor pela vida, e ele acreditava que toda a oportunidade de progresso era também um serviço espiritual, o reconhecimento do sagrado em cada pessoa: ‘cada um de nós é um pouco mais do que nós próprios’, dizia: Nós podemos sempre ser mais do que somos, porque esse melhor é aquilo que já hoje somos.
2. A Serração
Aberto o enorme portão de ferro, o porteiro procura guiar-me na penumbra do corredor de acesso ao escritório. A súbita diferença de luminosidade requer que me acautele, e para evitar cair estendo as minhas mãos para a frente e para os lados enquanto caminho como um cego (que será feito do operador da central telefónica?). Uma porta que se abre, uma voz estridente de alguém que deu conta da nossa chegada:
’Quem é o senhor, o que procura?’
... ‘ Sou o filho do antigo proprietário da fábrica, e agradecia que me permitissem uma rápida visita’? respondi.
‘O senhor Chamboko foi informado?’
... ‘Não sei quem é o senhor que refere, mas não, não contactei ninguém’...
‘Ah, okey, o senhor Chamboko é o nosso patrão, e importante deputado do parlamento em Maputo!... Está com sorte, porque ele está hoje de visita ... para ter a certeza que a matambira (dinheiro) entra no bolso’ (piscando o olho com um sorriso matreiro e indicando num gesto que ali devo aguardar, antes de subir a escada ao primeiro piso)
Na meia-penumbra da soleira da porta de acesso à escada interior olho com espanto a desordenada vastidão daquilo que um dia foi a secção de mobiliário, onde agora diversos amontoados de entulho e um esqueleto de carroceria substituem as inúmeras bancadas de trabalho que recordo com nostalgia. Um ermo de sombra e cinza: paredes manchadas de bolor, antigas claraboias sem vidraças, onde teias de aranha e poeira bloqueiam a luz. Onde as antigas fragrâncias de madeira exótica há muito se dissolveram nas aparas do tempo; de onde capacitados artesãos partiram para o desemprego ou outros destituídos trabalhos. Num pavilhão ao lado vejo um espaço onde algumas das antigas bancadas estão alinhadas, mas vazias, e onde meia dúzia de operários trabalham painéis de madeira (v. foto). Enquanto espero, espreito ainda por uma porta lateral que desconhecia, que abre sobre um amplo pátio com serras de fita e máquinas de corte de madeira para usinagem dos enormes toros empilhados, tapetes transportadores e zonas de aplainamento... vejo assim confirmado que a antiga fábrica se transformou numa serração artesanal e rústica carpintaria.
Um dos pavilhões da antiga fábrica (2007)
A partir de 1975 o novo ‘Estado de operários e camponeses’ levou à eliminação ou nacionalização do sector privado classificado de ‘capitalista’, e com isso instaurando uma nova economia ‘socialista’ que aniquilou a produtividade económica responsável pelo notável progresso que Moçambique conheceu, sobretudo nas duas décadas anteriores à independência. O colapso desse modelo económico instaurou uma nova elite política essencialmente dependente da pura extração (predadora e teoricamente ilegal) dos ‘recursos naturais’, entre os quais –para além de minerais, gás, pescas, marfim – se incluem as milenares florestas. Recordo ainda ter lido num relatório da ‘Agência de Investigação Ambiental’ (EIA) a insustentável corrida de delapidação das florestas, particularmente com ‘a insaciável demanda chinesa de madeira’ (...) que explica o facto de que ‘93% da extração de madeira’ fosse ilegal neste ‘segundo país menos desenvolvido do mundo (...) onde os recursos naturais de florestas podem estar esgotados em 2028’ (dados de 2013 2). Também a imprensa noticiou que um governador provincial, ex-ministro e chefe do 'Corpo Disciplinar' do partido no poder, estar envolvido num escândalo de exportação ilegal de madeira para a China, nomeadamente autorizando a exportação de contendores apreendidos pelo tribunal. A mesma notícia referia que um comerciante chinês e seus comparsas haviam sido presos, mas pouco depois libertados. Assim se mantêm como sistémicas as alianças e corrupção políticas baseadas em relações de patrão-cliente, que depois de quase cinco décadas de independência –malgrado a ‘ajuda externa’ e ‘cooperação internacional’ (corresponsáveis passivos desta situação) – perpetuam o status quo de pobreza endémica e estrutural (3), que em parte explica a atual rebelião islâmica terrorista ‘al-shabaab’ no norte do país, onde a luta de libertação anticolonial outrora se iniciou.
O velho cofre (2007)
As minhas reflexões são bruscamente interrompidas pela voz aguda da assistente do diretor (‘O senhor Chamboko pode agora recebê-lo’!) e naquele percurso vou registando a decrepitude do lugar, desde o desértico e escuro rés-do-chão ao primeiro piso, onde reconheço o grande e velho cofre a um canto, duas secretárias, uma delas ao fundo onde era o escritório do meu pai: tudo pouco mais do que uma vasta sala desarrumada e suja. A ilusão da ‘seleção natural’ do poder, a fantasia daquilo que é pouco apto, mas eminentemente simbólico –a caixa-forte e a secretária da administração– como sobreviventes do dilúvio... quando será que iremos aprender que é a cooperação, e não a competição, que determina o progresso? Ao aproximar-me da única zona iluminada da sala, deparo com uma figura obesa, com pequenos olhos inseridos em prominentes bochechas, olhando-me inquisitivamente. E nessa aproximação, um gesto mecânico de mão estendida, oleosa, fria, flácida, que me cumprimenta. Num olhar mais próximo e atento noto agora um exagerado tom assertivo (talvez defensivo?) que de imediato –sem que eu me lembre de ter questionado motivos –indica ter tido oportunidade de adquirir a fábrica, e com isso contribuir para a construção do ‘homem novo’. Eu observo ironicamente que ele deve ter sido considerável habilidade de forma a derrotar tantos outros que com ele competiram para comprar o que estado nacionalizou sem custos... sentindo um interior arrepio de repulsa dessas verdades inventadas.
‘Você vem aqui de visita, mas o que espera poder ver?’ (uma pergunta que ele deve ter antecipado no caso de confrontar alguém que questione o seu passado)
... ‘Venho ver o muito que mudou... o que no tempo do meu pai era uma fábrica de colchões de molas e mobiliário dizem-me ter sido depois de nacionalizada uma fábrica de colchões de palha de coco ... até os coqueiros deixarem de ter cocos ... sendo agora uma serração ... até Moçambique deixar de ter árvores?
‘Sim, depois de comprar a fábrica ao governo é uma serração com um volume considerável de exportações’ (ignorando a minha ironia, enquanto aponta para uma fotocópia de um documento emoldurado, dificilmente legível, pendurada na parede) ...
... ‘Depois de ter também comprado muitas outras fábricas igualmente nacionalizadas, como alguém me disse, deve ter sido um considerável esforço económico...
‘Assim é’, respondeu-me, ‘mas quanto mais se trabalha mais sorte temos!’
... ‘Ah, aqui está um provérbio que os camaradas docentes da República Democrática Alemã muito usavam nos nossos tempos de universidade..., mas aprendi depois da reunificação que a versão não-oficial era ‘quanto mais bem apadrinhados melhores benefícios recebemos!’, quando dou conta de que a sua fisionomia começa a revelar alguma irritação.
‘Sim, vá e veja os progressos da fábrica, mas tem de ir acompanhado pela minha assistente’
O escritório na penumbra, e o gabinete do pai ao fundo (2007)
Lídia (afinal tem um nome) conduz-me através de uma peregrinação de proporções apocalíticas: vastos e quase irreconhecíveis pavilhões com maquinaria e viaturas abandonadas, desconjuntados restos de antigas peças de mobiliário, entulhos e detritos aqui e ali, velhos pneus, toros de madeira amontoados como refugo...até que, como Jonas expelido do estômago da baleia, desembocamos numa zona exterior anexa à antiga fábrica, onde enormes troncos de madeira exótica aguardam o corte a ser feito por serras de fita vertical instaladas debaixo de um alpendre, onde luz e som evidenciam os trabalho em curso. Imóveis, observamos por um longo momento a luz solar amortecida por uma nébula de poeira e serradura; e porque nada existe a sós, esse breve eclipse intensifica os infernais e estridentes silvos do tronco a ser amputado que me fazem imaginar o fragor que aquelas gigantescas árvores teriam emitido ao serem arrancadas do seu multissecular berço. Em torno daqueles imensos corpos esfacelados rodam operários de farda azul, cautelosamente apoiando aqui e ali as monumentais peças truncadas que a máquina vai retalhando. Os seus gestos são lentos, mas precisos, as suas faces e braços brilhantes de suor, mas a sua postura reverente. Depois de obtidos os valiosos retalhos, depois de inspecionados para determinar uma perfeição agora definitivamente fragmentada, as pranchas são empilhadas para secar, como corpos recém-embalsamados.
3. O reencontro
Num dos cantos, sob a claridade difusa do alpendre, os operários iniciam o seu período de descanso. O ar é pesado, sem aragem, quase irrespirável. A poeira assenta lentamente. A luz varia entre o opaco à sombra do telheiro, e uma claridade translúcida que perde e ganha volume, em ondas de calor que nos tocam como garras incolores, mas tangíveis. Como se a natureza nos quisesse punir pelo crime que foi destruir aquela frondosa frescura que agora jaz morta aos nossos pés. Nada em nosso redor recorda o verde da vida, o vegetal e a essência das coisas criadas. Tudo são tonalidades de castanho, um pousio inculto, pardo e espesso. A evocação de um ocaso ao meio-dia.
Eu pergunto à Lídia se das centenas de operários que a Mobel tinha, alguém ainda ali trabalha. Ela aponta um respeitável ancião, meio vergado pelo peso dos anos, dizendo que o patrão reteve por caridade e por nele reconhecer a memória daquelas paredes. Uma última ‘referência’ útil. Com muita curiosidade e expectativa aproximo-me daquela sombria figura que agora me olha inquisitivamente, com um olhar profundo, mas de um vermelho baço e distante, um olhar triste. Estendo-lhe a mão, e pela primeira vez nesta visita vejo um súbito esboço de sorriso, um rascunho de boas-vindas. Sem quase acreditar no que vejo, reconheço Blond! E nesse abraço, reconciliando-me finalmente com o presente, sinto que de facto meu pai está ali connosco, espiritualmente entre nós.
Falamos rápido e atabalhoadamente do passado e do presente, que a amizade mistura e rearranja a bel-prazer, como se o tempo subitamente deixasse de existir, numa intemporal e inevitável leveza do ser. Falamos dos velhos tempos em que nos encontrávamos no mangal (4), recordamos amigos comuns, tudo como se ontem fosse. Blond recorda-me que um dos últimos trabalhos que meu pai organizou foi a de fabricar carteiras para oferecer à escola de minha filha. Mas os roubos de matérias-primas imperavam nessa altura, sobretudo tudo que pudesse ser empregue como materiais de construção. Por último os alunos recebiam as suas lições sentados no chão. E a fábrica, carecida de toda a matéria-prima de colchoaria ou mobiliário, esteve meses paralisada e com graves problemas económicos, nomeadamente para pagamento salarial a centenas de trabalhadores, sendo que despedimentos eram proibidos pelo governo.
Por fim meus pais, alertados por Blond, de forma a evitar a iminente prisão de meu pai sob a falsa acusação de ‘sabotagem económica’ (5), foram obrigados a abandonar o país para sempre. Blond recebeu por meu intermédio e a pedido de meus pais, uma compensação económica. Mas com a sua habitual determinação, coragem e esperança do nosso regresso, ali permaneceu. Mais iria ouvir: numa das suas últimas conversas com meu pai. ‘Seu pai disse que gostava demasiado de ti para te convencer que sonhavas com uma fantasia, e que devias em vez disso continuar com o seu trabalho; que tinha esperança de que tu um dia aqui voltasses para continuar a obra que ele iniciou, em vez do trabalho na universidade’. E assim meu pai pediu-lhe que se fosse possível, ali estivesse para me acolher.
Emocionado com o que me conta, revelo que infelizmente meu pai não pode estar hoje connosco, porque nos deixou há poucos meses. Com um olhar sombrio e pesaroso, Blond termina dizendo: ‘o meu passado também morre com ele, o seu pai; eu perdi meu filho único num campo de concentração. Quando um filho único morre, o pai perde o futuro; quando perde um amigo como seu pai, morre o passado. Não tenho mais nada na vida, quando vejo a criança que vi crescer estar bem, e dela poder me despedir uma última vez... agora posso regressar à minha aldeia zambeziana’.
..., ‘Mas antes de partir, tenho uma coisa que guardei para o teu regresso’. Assegurando-se que Lídia não nos segue, guia-me até à velha enfermaria. De um fundo falso no chão retira um pacote envolto num pano velho que me entrega. E dentro de uma rústica caixa de madeira que ele talhou de um antigo pedaço de umbila, um envelope com uma caneta de meu pai, e uma nota rabiscada agora dificilmente legível: ‘No portão de entrada desconsegui travar o roubo, mas salvei esta caneta para o teu regresso. Como não posso remediar o passado peço-te que escrevas para ajudar a remendar o futuro’.
Depois de um último abraço, também meu pai se afasta lentamente, assegurando-me o seu perdão. E eu, na despedida, voltando costas ao passado e à depravação deste presente, recordo ‘A Morte em Veneza’ de Visconti, Tadzio ao longe apontando o firmamento, fazendo lembrar ao agonizante Aschenbach a imortalidade do Génesis de Michelangelo e do Adagietto de Mahler; e dou-me conta de querer um dia morrer assim, como meu pai, no reencontro por um breve momento com a sua criação.
Fotos do autor
1 V. narrativa ’A Penumbra ao Amanhecer’
2 https://eia-international.org/press-releases/chinas-illegal-timber-imports-ransack-mozambiques-forests/
3 João Mosca, ADN da Frelimo: Poder e Dinheiro, Centro de Integridade Pública, Maputo 2022, pp. 72,103
4 V. narrativa ’Segredos de Natal’
5 V. narrativa ’A Penumbra ao Amanhecer’